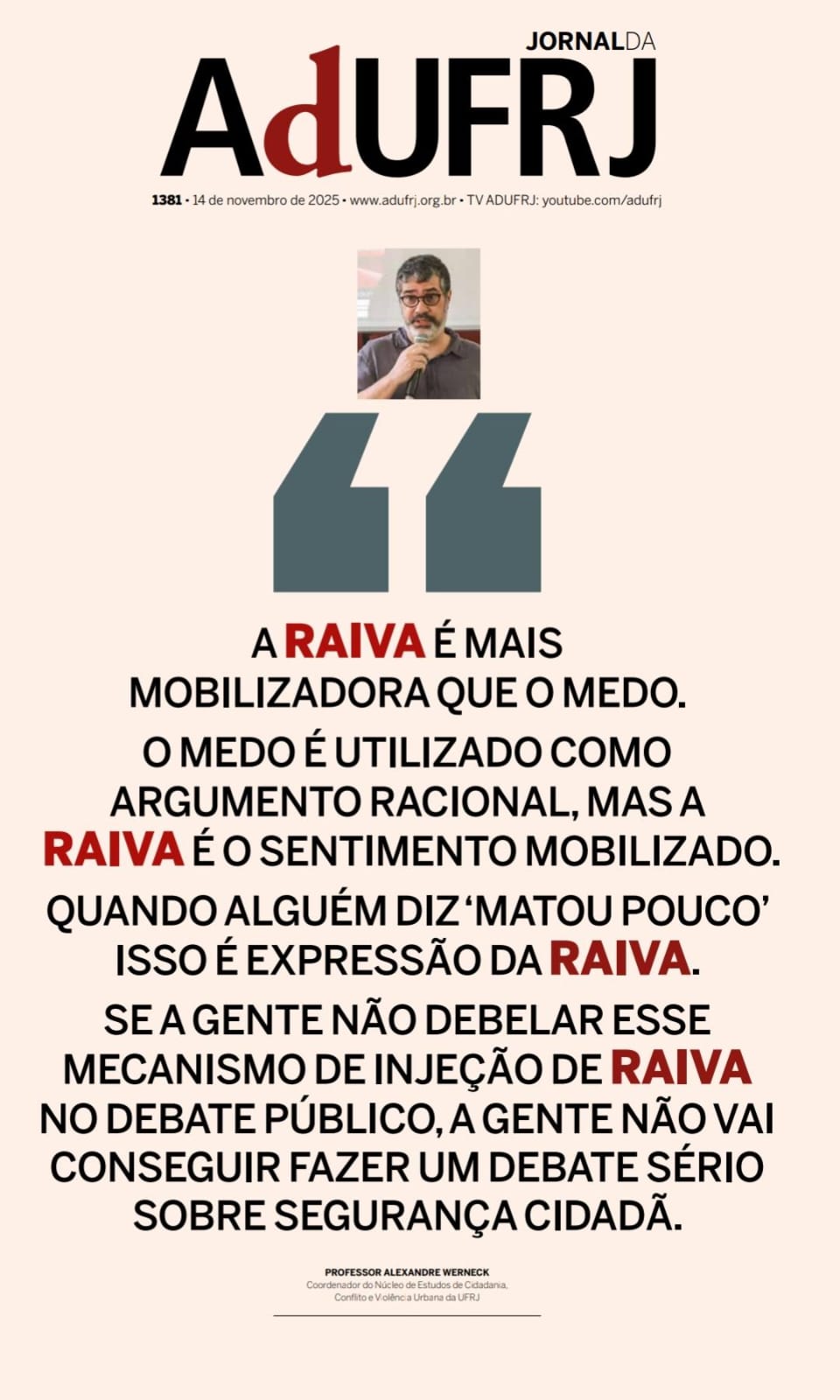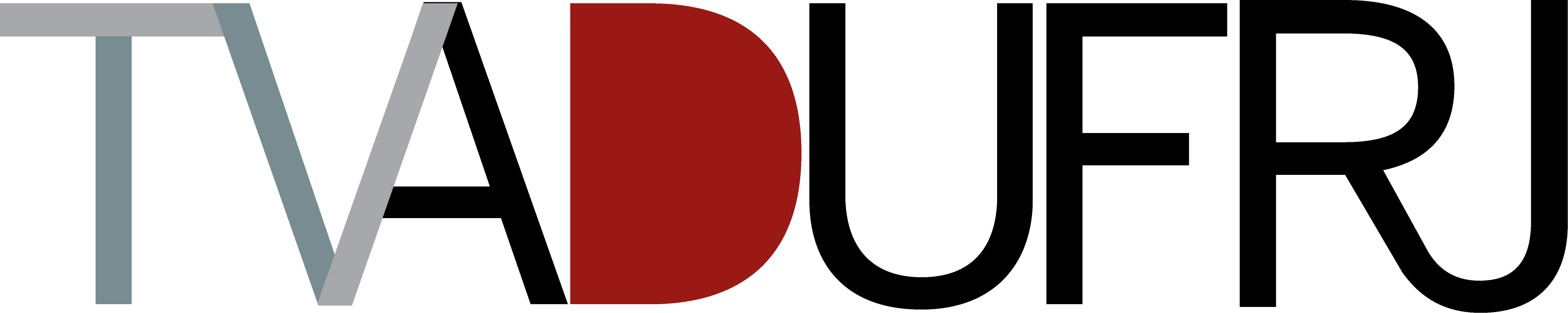ENTREVISTA I ALEXANDRE WERNECK, COORDENADOR DO NÚCLEO DE ESTUDOS DE CIDADANIA, CONFLITO E VIOLÊNCIA URBANA DA UFRJ
 Foto: arquivo pessoalNesta semana, favelas da Zona Sudoeste da cidade foram alvos de operações policiais. Só que desta vez, sem corpos, sem feridos, sem intenso tiroteio, sem grande aparato policial. Cenário bem diferente de duas semanas atrás, quando a megaoperação policial dos complexos do Alemão e da Penha gerou a maior chacina do país.
Foto: arquivo pessoalNesta semana, favelas da Zona Sudoeste da cidade foram alvos de operações policiais. Só que desta vez, sem corpos, sem feridos, sem intenso tiroteio, sem grande aparato policial. Cenário bem diferente de duas semanas atrás, quando a megaoperação policial dos complexos do Alemão e da Penha gerou a maior chacina do país.
Para entender o contraste entre as operações e a escalada do conflito urbano, o Jornal da AdUFRJ ouviu o professor Alexandre Werneck, coordenador do Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ. Werneck foi orientando do professor Michel Misse, um dos maiores nomes em segurança pública do Brasil (falecido em agosto), e é herdeiro de seu legado intelectual. Werneck analisa, nesta entrevista, as relações entre crime e Estado e nos dá pistas sobre como a academia pode intervir no debate público sobre segurança.
Jornal da AdUFRJ - O que leva uma operação ter a ação de uma só força policial, sem trocas de tiros e mortes; e outra contar com expressivo aparato e vasto número de mortes?
Werneck - Evidentemente, a gente está falando como observador externo e uma resposta do tipo “justificativa” para uma diferença entre uma operação e outra deveria vir do governo. Eles certamente terão argumentos supostamente técnicos. Falo “supostamente”, porque vários dos argumentos utilizados para o massacre do Alemão e da Penha foram também supostamente técnicos. Havia um discurso de responder a minúcias da ADPF para justificar a ação.
Há uma especificidade daquela operação do ponto de vista de seus objetivos. O resultado dela, sabemos: os mandados de prisão não foram cumpridos de fato, o grande manancial de corpos produzidos pela operação não foi responsável por uma neutralização do Comando Vermelho. Há certo consenso de que essa operação tinha muito mais o sentido de fazer uma declaração de força e de tentativa de deslocar o debate público do país para a discussão da segurança pública. O que está colocado é centrado não em soluções sociais, de segurança no sentido humanista, de gestão da cidadania. O que está posto é um projeto em favor de soluções econômicas, de investimento/resultado.
E eu preciso falar o óbvio: o Brasil não conta em seu arcabouço jurídico com a pena capital. A eliminação definitiva de um sujeito, seja ele criminoso ou não, não pode ser o resultado ou o fim de uma operação. O Estado não pode fazer isso. Aquela operação parece ter sido pensada para ser um recado público. Acabar com o crime eliminando criminosos é ineficaz. Repensar a própria ideia de segurança, garantindo cidadania, direitos, isso, sim, é política de segurança.
Há uma aceitação social que permite execuções em certos pontos da cidade?
Certamente há uma aceitação social. Há um apelo à raiva que leva as pessoas a adesões simplistas. As pesquisas de etnografias e observações diretas nas favelas expressam esse tipo de apoio a essas medidas. A raiva é constantemente mobilizada.
Todas as pessoas têm medo de morrer, mas umas estão mais expostas a essa possibilidade do que outras. O que pauta a sensação de segurança de boa parte das pessoas é o medo de perder o celular, não um risco concreto de morte. Quem corre risco concreto de homicídio hoje é, prioritariamente, o morador de favela. O perigo propriamente existencial é circunscrito a determinadas parcelas da população, enquanto o perigo patrimonial é circunscrito a outras. Isto no aspecto racional.
Do ponto de vista simbólico, isso é trabalhado de outra maneira. A raiva é mais mobilizadora que o medo. O medo é utilizado como argumento racional, mas a raiva é o sentimento efetivamente mobilizado. Quando alguém diz “matou pouco”, como vemos em redes sociais, isso é expressão da raiva. Se a gente não debelar esse mecanismo de injeção de raiva no debate público, a gente não vai conseguir fazer um debate sério sobre segurança cidadã.
Muitos desses locais da Zona Sudoeste são de domínio da milícia ou de recente ocupação do CV. O senhor acredita que isso poderia explicar em parte essa ausência de letalidade e de conflito armado?
É possível. Evidentemente, há um conteúdo de especulação aqui, mas raciocinemos. Milícia não é um tipo específico de quadrilha. A milícia é uma forma de atuar. O modus operandi básico é que agentes do Estado, dotados de monopólio conferido pelo Estado de mobilização de força, privatizam esses dispositivos para cobrança por produtos e serviços. É diferente de uma facção encastelada numa região da cidade para venda de um produto, a droga. A milícia tradicionalmente é um dispositivo de exploração de monopólio de mercado. Esse modus operandi depende de policiais, bombeiros etc.
A relação escusa do Estado com o tráfico está no pagamento do “arrego” para evitar as operações policiais. Na milícia, a relação escusa se dá entre PM negociando com PM. É possível, portanto, que isso module as relações entre os territórios e as forças de Estado. Mas isso só o detalhamento das tomadas de decisão por parte das forças policiais é capaz de explicitar. O que a gente pode fazer é entender o contexto. De todo modo, mesmo não tendo havido mortes nas operações desta semana, o tipo de ação continua sendo imediatista.
Nos seus 20 anos de pesquisas nesta área, o senhor percebe uma manutenção, melhora ou piora em relação aos conflitos urbanos e aos resultados de operações policiais? Há um “enxugar de gelo”?
Há duas questões em paralelo: a primeira delas é o problema do crime. A outra, é a solução imediatista, que é a violência de Estado. Do ponto de vista do crime, a gente vive uma espécie de sazonalidade ao sabor de inúmeros fatores que envolvem desde uma problemática fundamental de cidadania, até sabores eleitorais que se manifestam e a própria pauta da vida econômica do país. Momentos mais sérios de crise econômica produzem respostas diferentes. Esse é um pedaço da questão. Foto: Tomaz Silva /agência Brasil
Foto: Tomaz Silva /agência Brasil
Agora, do ponto de vista da resposta do Estado, certamente piorou muito. Tanto piorou que a gente acabou de testemunhar a maior chacina do país, secundada por outra chacina recente que já tinha sido a maior do estado, quando 28 pessoas foram mortas. A escalada aí é muito perigosa de resposta ao crime, mas também de mudança qualitativa. Há recusa de cidadania, de direitos humanos, recusa da nossa própria ordem social.
A gente evidentemente tem um problema de crime que precisa ser resolvido com solução de inteligência, mas também com solução de cidadania. O “enxugar gelo”, como você diz, não é apenas uma contingência de políticas de segurança ineficientes, tornou-se um elemento das políticas de segurança. Elas são concebidas para serem imediatistas, pontuais. A vida das pessoas se tornou massa de manobra para esse tipo de movimentação imediatista.
Evidentemente que o crime é um problema concretamente experimentado, sobretudo pelas populações mais pobres, mas a classe média também experimenta o crime com seu celular furtado, com seu carro roubado etc. No entanto, a pauta nacional é mais ampla. A centralização dessa pauta apaga a capacidade de atenção das pessoas a outros problemas de igual ou maior monta.
Como a academia pode intervir nesta realidade? Como convencer os gestores a trabalharem com evidências científicas no combate ao crime organizado?
Não é uma tarefa simples nem fácil. A gente vive um momento muito difícil de obscurantismo em relação ao conhecimento em geral. Não nos esqueçamos que viemos de um governo central contrário a políticas de saúde com base científica, antivacina. Esse mesmo governo central fazia um discurso, na figura de seu ministro da Educação, afirmando serem as ciências humanas anedóticas, ’antro’ de posições políticas e não científicas. Esse obscurantismo irresponsável ajudou a construir um certo campo de tomada de decisão não baseada em evidências científicas.
A academia, a universidade pública, tem um mandato de responsabilidade na produção de conhecimento qualificado. Se ela fizer o que tem que fazer, como já faz, já está produzindo esse serviço para embasar políticas públicas. A academia também é centro de ensino e extensão, de conversa com a sociedade. A divulgação científica é um espaço importante de circulação desse conhecimento científico de alto nível para a população em geral. As descobertas das ciências sociais também necessitam ser traduzidas para o público. Precisamos explicar os nossos achados e precisamos dos meios de comunicação dispostos a isso.